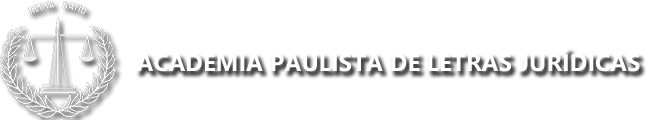Senhoras e senhores,
Começo por agradecer aos membros da Academia Paulista de Letras Jurídicas a minha presença em seus quadros, resultado do processo eleitoral de ingresso.
Dirijo meus cumprimentos ao Chanceler desta Academia, o eminente Professor Ives Gandra da Silva Martins.
Cumprimento os integrantes da mesa:
- Professor Francisco Pedro Jucá - Presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas
- Professor Dirceo Torrecillas Ramos - 2o. vice -presidente da APJL
- Professor Homero Batista Mateus da Silva, 3o. Vice-Presidente Da APJL
Registro especial agradecimento aos Professores e Acadêmicos Presidente Francisco Jucá e Homero Batista, ambos pela iniciativa de propor o meu nome ao Silogeu.
Cumprimento e agradeço a honra de ter sido conduzido até a mesa de honra pela ilustre Acadêmica Professora Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade.
Cumprimento também os demais Acadêmicos e todos aqui presentes: colegas magistrados e magistradas, advogados, procuradores, professores, servidores, minha mulher Debora, meus familiares e amigos, e agradeço também publicamente a todos que nos enviaram mensagens parabenizando pela ocasião.
Para iniciar esta fala, pensei muito no que poderia dizer, mas preciso confessar a todos que pedi sim ajuda: para Nossa Senhora das Letras Jurídicas. E ela me ajudou!
Penso que não sou propriamente um homem das letras jurídicas, sou sim um modesto juiz do trabalho de São Paulo, “sem muitas pretensões”, como outrora também afirmou um grande professor e amigo, Amauri Mascaro Nascimento, que hoje leva o nome do maior auditório deste importante Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, aqui em São Paulo.
A Academia Paulista de Letras Jurídicas, sponte sua, através das indicações do Acadêmico-Professor Homero e do ilustre Acadêmico-Presidente Jucá, me acolhe como membro efetivo, após eleição.
Preciso dizer que estou muito feliz por poder celebrar minha posse na Cadeira nº 80 da Academia Paulista de Letras Jurídicas, aqui, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E digo com sinceridade: há uma simbologia própria em estar neste espaço. Foi aqui que cheguei, em janeiro 2003, e foi aqui que construí boa parte da minha história profissional e pessoal.
Não gosto de dizer que “ocupei” diversos cargos neste Tribunal. Ocupar é um verbo que me soa imóvel, quase burocrático. Dá a impressão de quem apenas se instala, de quem toma um espaço e ali permanece, como se bastasse estar. Mas o que vivo aqui não é nada estático. Em cada função procurei estar inteiro. Ocupar sugere posse, e o que me move sempre foi pertencimento. O meu pertencimento às instituições, e não o contrário. Ocupar é verbo de quem chega e fica. Eu prefiro o verbo servir. Eu quis servir e contribuir, do meu jeito, para ajudar a transformar esse nosso Tribunal. E digo isso muito modestamente, mas repleno de responsabilidade.
E é com esse mesmo espírito, com o mesmo compromisso e a mesma energia, que agora tomo posse na Academia Paulista de Letras Jurídicas! É natural que esse seja um momento de celebração. O Estatuto da Academia, diz que, para alguém se tornar membro efetivo, deve ter contribuído para o estudo do Direito em todos os seus ramos e para o aperfeiçoamento e difusão das Letras Jurídicas. Então, essa solenidade é resultado de um processo eleitoral e, por conseguinte, um reconhecimento pelo caminho que trilhei até aqui. Graças ao bom Deus. E recebo esse reconhecimento, com enorme gratidão por todos que me acompanharam nessa jornada, que me ajudaram a chegar até aqui, pelas oportunidades e condições que tive, e pelo ímpeto de aproveitá-las.
Mas se há reconhecimento, há também compromisso. Compromisso com o que vem pela frente, com o que a Academia Paulista de Letras Jurídicas representa e com o que ela espera de cada um de nós.Porque ser acadêmico não é apenas um título pelo que construímos. Representa também uma responsabilidade de preparar o futuro, mantendo viva a reflexão, a crítica e o aperfeiçoamento constante das Letras Jurídicas.
E é a partir desse sentimento de gratidão e compromisso que presto, agora, minhas homenagens aos que me antecederam.
A Cadeira de nº 80, que passo a integrar, tem uma história que merece ser lembrada com respeito e orgulho. Ela carrega em sua memória o nome do Patrono Mário Masagão, um jurista que marcou profundamente a vida jurídica do nosso país. Nascido em São Carlos, em 1899, Masagão foi advogado, Professor Catedrático de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Deputado Constituinte na Assembleia Nacional Constituinte de 1946 e Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Exerceu ainda o cargo de Secretário da Justiça do Estado de São Paulo, sempre com notável espírito público. Ele acreditava no Direito e dedicou sua vida ao seu aperfeiçoamento e à difusão das Letras Jurídicas. Foi autor de vários livros, uma forma de perpetuar seus conhecimentos jurídicos e os valores éticos e humanos. E, por isso, é justo o destaque ao seu nome, como Patrono desta cadeira, pois, a cada novo ocupante, ele nos lembra que o Direito não é apenas norma: é também cultura, linguagem e sensibilidade.
Esta cadeira já teve um titular igualmente digno de admiração: o magistrado Wálter Fanganiello Maierovitch, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor, conferencista e estudioso do Direito. Sua passagem à classe dos membros beneméritos é símbolo do seu legado, das suas reflexões e de sua produção intelectual. E é por isso que me sinto honrado por sucedê-lo nesta cadeira.
A ambos os Professores, Masagão e Maierovitch, presto minha homenagem e minha gratidão. Eles representam o que há de mais nobre na trajetória do jurista: a palavra comprometida com a Justiça.
Não vejo, portanto, esta cadeira como um título. Ela é, para mim, uma responsabilidade, que exige constância, coerência e coragem para seguir os rumos trilhados pelos que por aqui passaram e deixaram sua marca.
E é com os olhos voltados ao legado do passado e a atenção voltada ao que ainda precisa ser feito, que sigo, agora, nesta caminhada como membro efetivo eleito da Academia Paulista de Letras Jurídicas, integrante da honrosa cadeira de no. 80.
Quero dizer que pretendo dividir este discurso em dois atos, como os dramaturgos fazem. É, de certa forma, uma espécie de homenagem a quem se dedica à arte de escrever e, também, uma necessidade para melhor organizarmos as nossas ideias. O primeiro ato será uma breve digressão sobre a história do Direito, às suas origens, à formação das ideias de justiça que atravessam o tempo e moldam o que somos. Farei um mergulho rápido pelas profundezas das letras jurídicas na humanidade, através da história da civilização erigida na região da Mesopotâmia, que determinou os destinos do mundo.
O segundo ato será dedicado a algumas reflexões sobre a Literatura e o Direito, campos que se cruzam e se completam, porque ambos tratam da condição humana, um pela norma, o outro pela palavra – se é que é possível distingui-los dessa forma. Mas é importante ponderar desde já como a literatura nos lembra de onde viemos e os riscos do porvir, ao passo em que o Direito nos instiga a projetar para onde queremos ir. E, nesse momento histórico em que vivemos atualmente, penso que é relevante nos aprofundarmos sobre a função social do contrato de trabalho, sob a ótica d’O Mercador de Veneza, peça de teatro escrita por William Shakespeare no Século XVI, portanto há mais de 400 anos.
Vamos ao nosso primeiro ato. Quando falamos em letras jurídicas, precisamos, sim, ir até as profundezas históricas (ou, se preferirem, às funduras) para revisitarmos a primeira normatização existente na história da humanidade, naquela importante e pulsante região da Mesopotâmia: o Código de Hamurabi. O primeiro conjunto de leis que vigorou durante o Império Babilônico, com o objetivo de disciplinar as práticas cotidianas e já demonstrando, nos primórdios da civilização, preocupação com o seu povo, ficou conhecido como Código de Hamurabi, em referência a Hamurabi, também chamado Kamo Rabi, rei da primeira dinastia babilônica.
Alguns registros apontam que Hamurabi reinou de 1728 a 1686 a.C.; outros indicam o período de 1792 a 1750 a.C. De todo modo, é tempo suficiente para apontá-lo como um dos mais antigos conjuntos de leis conhecidos da humanidade.
Esse regramento foi esculpido em pilares altos de pedra de basalto, hoje em exposição no Museu do Louvre, em Paris (e assim deve permanecer por muito tempo, ao menos se a segurança no local for reforçada). Em suas origens, ficava exposto em locais públicos, para que todos os súditos do reino de Hamurabi pudessem acessá-lo e conhecê-lo. Se fosse hoje, para ter amplo alcance, precisaria estar no Portal Hamurabi, algo como www.reihamurabi.com.br. Precisamos sorrir, senhoras e senhores, até mesmo como uma forma humanamente possível de manter nossa seriedade.
Hamurabi reinou no território da Mesopotâmia, na dinastia babilônica, uma região histórica localizada entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, que mais tarde se tornaria território persa, depois iraquiano, e que, já no apagar do século XX, com a guerra no Iraque, acabou, lamentavelmente, sob ocupação americana.
O Código de Hamurabi é, portanto, um dos monumentos mais importantes da história da humanidade. Ele serviu para moldar e fixar as ideias de Direito em todo aquele grande império, influenciando o desenvolvimento posterior das tradições jurídicas do Oriente Próximo, inclusive quando os hebreus começaram a dominar Canaã.
Mas não parou por aí. As mentes das gerações seguintes foram, de uma forma ou de outra, influenciadas por essa soberba codificação das decisões judiciais de épocas passadas, decisões que passaram, então, a ser consideradas “o Direito”. Séculos depois, trechos do Código passaram a ser copiados e estudados nas escolas de escribas da Babilônia, como referência de Direito e de Justiça.
Hamurabi fez com que os quatro cantos do mundo, à sua época, prestassem obediência. Governou o povo, trouxe ajuda ao país, estabeleceu a lei e a justiça na terra e promoveu o bem-estar coletivo. Certo é que os dispositivos legais existentes no seu reinado demonstram ter sido altamente eficazes para o seu tempo, ainda que, naturalmente, não tenham resistido às transformações que o futuro se encarregaria de estruturar.
Pode-se, evidentemente, discordar do conteúdo de sua normatização, pois a sociedade encontrava-se em outro estágio de desenvolvimento civilizatório. Mas é inegável que Hamurabi deixou um legado significativo para a história, por ter produzido o mais antigo documento jurídico de que se tem notícia, com formação de um corpo de leis.
Hamurabi nos deixou o Código, e, quem sabe, também os Jardins Suspensos da Babilônia, ou ao menos o mito deles. Mas isso já é assunto da arqueologia, e não propriamente das letras jurídicas.
Certo é que o Código de Hamurabi foi o primeiro na história a conter ideias claras sobre direito e economia. É, portanto, sobremodo interessante e instrutivo, para as letras jurídicas, fazer uma incursão mais completa pelo mais antigo código de leis do mundo, tendo sempre presente os sinais característicos do seu tempo.
Sou nascido em 1962 d.C. e, por isso, não vivi na época babilônica e nem conheci o rei Hamurabi (acreditem!), contudo, li suas leis. E impressiona a forma e a metodologia daquela codificação.
O código abrangia, em seus 282 artigos, situações legais comuns nas esferas civil, penal e administrativa, numa época em que a tradição e os costumes formavam o ordenamento jurídico consuetudinário, regulando as relações de trabalho, naturalmente muito diferente do Direito do Trabalho moderno. Regulou também direitos familiares até as questões de propriedade, inclusive envolvendo os escravizados. Esse código babilônico continua a atrair a atenção de historiadores, juristas, economistas, sociólogos, cientistas políticos, acadêmicos e de tantos outros estudiosos dos princípios do controle social. Seu governo entrou em colapso após sua morte, mas seu Código se tornou modelo para a elaboração de leis em culturas e épocas de distintas gerações futuras.
Eu, pessoalmente, me inclinei aos estudos do Direito do Trabalho e do processo que o instrumentaliza. Trinta e oito anos se passaram desde que deixei a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, em 1987, rumo ao futuro. Enfrentei muitas dificuldades (como muitos aqui) para conquistar algo. Para cada vitória, houve uma derrota e, assim, segui adiante. Sabe Deus com quanta emoção procurei transpor essas dificuldades pessoais até chegar aqui. Mas já acompanhava, desde as últimas décadas, a influência da legislação do trabalho na evolução do Direito e das letras jurídicas.
Ao longo dessa caminhada, ainda como advogado, publiquei o livro Dano Moral e o Direito do Trabalho, pela Editora LTr, em quatro edições sucessivas (1995, 1996, 1999 e 2002). Nele, falei da importância de hamurabi e, entre outras idéias, defendi, de forma pioneira à época, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar ações relacionadas ao dano moral. A tese foi bem acolhida pela doutrina, pela jurisprudência e, depois, acabou sendo acolhida na nossa Constituição, com a Emenda Constitucional nº 45, de 2004.
Contudo, antes de confirmar esse resultado em nosso país, durante minha especialização em Direito na Espanha, vivi um episódio que guardo com muita emoção. Ao realizar pesquisas na biblioteca da Universidad de Castilla-La Mancha, no campus del Toledo, encontrei alguns exemplares do meu livro. Era uma manhã de sábado, 6/1/2001. Um frio terrível na Europa! Quase morri! Mais do que a alegria de ver que minhas ideias haviam cruzado o Atlântico, senti um misto de surpresa e gratidão ao perceber que os volumes estavam gastos, com páginas e palavras rabiscadas e muitas delas dobradas. Na verdade essa é a maior homenagem que se pode prestar a um livro: o sinal visível de que foi lido, consultado, emprestado, debatido! Aquele dia frio em Toledo, aqueceu meu coração. Eu estava sozinho no momento, e chorei!
Embora eu já tivesse experenciado o acolhimento das minhas ideias no Brasil, ver aquele livro, nas prateleiras de uma biblioteca estrangeira, com as marcas do uso e do tempo, foi uma descoberta inesperada e profundamente simbólica. Senti que as letras jurídicas, literalmente, haviam atravessado fronteiras. E, mais do que isso, percebi que a palavra, quando nasce do estudo e da convicção, ganha vida própria e se torna ponte entre povos e ideias. A partir dessa experiência, vieram muitas outras alegrias: convites, homenagens, o ingresso em institutos e academias, e, digo com humildade, a consolidação de uma trajetória que me trouxe até este Tribunal e, hoje, a esta Academia. Sim, a minha história está profundamente marcada pelas letras jurídicas!
Mas não basta falar do passado sem reconhecer o tempo em que vivemos e o campo onde se travam algumas das discussões mais intensas da atualidade. Preciso falar do Direito do Trabalho nesta posse porque nele se encontram, talvez com mais nitidez do que em qualquer outro ramo do Direito, as grandes tensões do nosso tempo. O estudo do Direito do Trabalho é, portanto, uma forma concreta de estudar o próprio Direito em movimento, em transformação. É, ademais, minha área de atuação. Assim, peço licença para me aprofundar em alguns temas tão importantes quanto atuais.
Admito que ingresso nesta Academia Paulista de Letras Jurídicas em um momento sensível, em que se aponta a existência de uma suposta crise no Direito do Trabalho. Mas, com o devido respeito, penso que a crise não é do Direito. A crise é da sociedade. Toda crise social repercute inevitavelmente em sua normatização, e é natural que o Direito, que regula a vida coletiva, enfrente dificuldades em tempos de instabilidade. Essas incertezas, contudo, decorrem de duas causas, uma ligada à revolução tecnológica e outra ligada à economia.
Quanto à economia, é preciso deixar claro que as instabilidades estão ligadas a fatores macroeconômicos, acirradas por uma concorrência global cada vez mais intensa e, muitas vezes, desleal, que comprometem a estabilidade dos mercados e fragilizam setores produtivos. O Direito do Trabalho, contudo, não é causa dessas crises, nem delas se alimenta. Pelo contrário: em todos os grandes ciclos de crescimento dos últimos cem anos (da industrialização, passando pelo chamado milagre econômico, até o boom das commodities) o país prosperou convivendo com direitos trabalhistas plenos. Mais do que isso: prosperou justamente por força deles. Na verdade, o Direito do Trabalho nunca foi obstáculo ao crescimento econômico do país, e notem que a própria CLT é essencialmente a mesma que está aí.
O Direito não é estático. Evolui como a própria sociedade que busca ordenar. Assim como já superamos a Lei de Talião, do princípio “olho por olho, dente por dente”, também não podemos continuar enxergando as relações de trabalho com as lentes do século passado. Isso não significa que devemos abandonar a proteção social. Pelo contrário, significa que devemos realizá-la de modo que seja efetiva no mundo atual. Sabemos que a Quarta Revolução Industrial, com o teletrabalho, a automação, a inteligência artificial e a gig economy, está reconfigurando profundamente o modo de produzir e de trabalhar: novas formas contratuais, plataformas digitais e modalidades até então inusitadas de controle e remuneração. Por mais variadas que sejam as inovações, temos, em nosso ordenamento, um porto seguro para a definição de algumas balizas: o artigo 7º da Constituição. E isso há de ser suficiente para nos guiar na retomada do equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e livre iniciativa em um momento de profundas transformações.
A sociedade contemporânea vem experimentando novas formas de produção e de vínculo, muitas vezes transitórias e sem o devido amparo normativo. Essa ausência de suporte jurídico produz um ambiente de insegurança, que afeta tanto o trabalhador quanto o empregador. Mas é importante lembrar: as conquistas trabalhistas não são relíquias de um tempo industrial superado, e sim garantias universais de cidadania. São valores permanentes que precisam ser traduzidos para a era digital.
Tudo isso, nos dias de hoje, é extremamente complexo e exige muito de nós, que lidamos com as palavras e com as leis. E, para isso, às vezes é preciso afastar-se um pouco das palavras da lei, para reencontrar o verdadeiro senso de justiça. E, para isso, a literatura pode ser uma grande aliada do Direito.
Vamos, portanto, ao nosso segundo ato. Quero convidá-los a uma viagem no tempo! Vamos a Veneza, no século XVI, cenário de uma das peças mais conhecidas de William Shakespeare: O Mercador de Veneza. A história começa com um contrato – daí já vemos que não irei devanear e que o tema tem tudo a ver com as letras jurídicas. Antônio e Shylock firmam um acordo de empréstimo e, até aí, nada de extraordinário. Dois homens de negócios, papel, tinta, assinatura. Nada mais do que o velho princípio da pacta sunt servanda, é dizer, os pactos devem ser observados. Quem ousaria discordar de um princípio tão simples? Afinal, se a força da palavra não valer, dizem que nada no mercado resiste.
Mas (e sempre há um “mas” no Direito) será que esse princípio vale de forma absoluta? Será que qualquer cláusula, desde que assinada, pode ser exigida a qualquer custo? Eu costumo brincar que a única coisa absoluta é a relatividade das coisas. E aqui, a literatura nos dá uma metáfora perfeita para lembrar que contratos não vivem sozinhos: convivem com a lei, com a Constituição, e sempre se sujeitando a ela – não o contrário.
Voltando a Shakespeare, é justamente para debater essa temática que ele insere um interessante elemento dramático em sua obra. Para dar “segurança” ao negócio, as partes estipulam uma garantia insólita, que ainda hoje nos causa espanto: se a dívida não fosse paga no prazo, o credor teria o direito de retirar do corpo do devedor uma libra de carne. Eis a cláusula! Está escrito! Ima libra, uma unidade de peso, que equivale a cerca de 453,592 gramas! E quando o devedor não consegue pagar, o credor exige o cumprimento. Uma exigência irracional e cruel.
A cena seguinte se passa no tribunal. O credor se apresenta seguro: “Exijo apenas o que foi pactuado!” A defesa clama por clemência, dizendo que se trata de cláusula cruel, desumana. O embate se acirra! Afinal, não foi esse o contrato que ambos assinaram? A palavra não é lei entre as partes? Até surgiram propostas de conciliação! Falou-se em aceitar o pagamento de uma multa, em tolerar o pequeno atraso, como tantas vezes acontece nos negócios. Mas nada…nada, absolutamente nada convenceu o credor. Ele permanecia inflexível: afirmou: “cumpram o contrato tal como foi assinado!”
E é nesse momento de impasse que vem à tona um argumento genial, daqueles que mudam o rumo de um julgamento. O contrato previa o corte da carne, mas não mencionava o sangue!Logo, a execução só poderia ocorrer se fosse possível retirar a carne sem derramar uma única gota de sangue. Caso contrário, haveria lesão corporal gravíssima, não eximida pelo contrato e severamente punida pela lei. O tribunal acolhe essa leitura. O resultado é inevitável: o contrato, que parecia perfeito, revela-se inexequível. Porque não se pode cumprir um pacto derramando sangue humano. O texto, isolado, prometia segurança; mas diante da realidade, conduzia à barbárie.
O sangue representa, metaforicamente, tudo que há de humano. Lembrem-se de que, para determinados grupos de pessoas e para certas religiões, o sangue é a própria alma, é a própria vida. É dizer: o direito não pode ser usado para violação da humanidade, pois existe justamente para protegê-la. Portanto, esse sangue que não poderia cair no chão de Veneza é mais do que o sangue físico do corpo humano. Ele simboliza a linha vermelha que o Direito não pode cruzar. Representa a própria ideia de limite: o reconhecimento de que contratos só existem e só valem dentro da ordem jurídica, e nunca acima dela. Mais do que isso: os contratos só valem se respeitarem a humanidade que existe em cada cidadão.
O sangue, que infirmou a validade do contrato, representa, sobretudo, a dignidade da pessoa humana, fundamento que ilumina todo o edifício constitucional do Estado Democrático de Direito. Esse raciocínio, embora presente na obra de 1598, é algo ainda bastante moderno. Apenas há algumas décadas passou-se a se falar na constitucionalização do Direito Civil, embora outros ramos já se fundassem em aspectos humanitários para justificar sua existência, como o próprio Direito do Trabalho.
Neste contexto, preciso trazer à tona, ainda que rapidamente, um debate contemporâneo: a pejotização. E o tema se conecta diretamente com O Mercador de Veneza porque parte da mesma indagação: Pode um devedor consentir com uma garantia que viole sua integridade? Pode a autonomia da vontade afastar a aplicação de direitos fundamentais? Pode a autonomia da vontade decidir que certos trabalhadores não são trabalhadores para efeito de proteção constitucional? Evidentemente, não!
Assim como em Veneza não se podia cortar carne sem derramar sangue, também hoje não se pode admitir cláusulas ou modelos que, na prática, façam sangrar a nossa Constituição Federal. O contrato não pode definir quem são os sujeitos dos direitos constitucionalmente previstos, muito menos excluir pessoas do seu âmbito de proteção. É a Constituição que define os limites do contrato. É a Constituição que define quem são os titulares dos direitos fundamentais sociais previstos em seu artigo 7º. E isso nenhum contrato pode mudar.
Se essa lição já valia no tribunal de Veneza, no século XVI, com muito mais razão deve valer na República Federativa do Brasil no século XXI, regida pela Constituição Cidadã de 1988. Porque aqui não estamos falando apenas da vida de um personagem literário, mas da vida concreta de milhões de trabalhadores e trabalhadoras. E, em um Estado Democrático de Direito, a tinta que assina contratos nunca pode valer mais do que o sangue humano!
Senhoras e senhores, o Direito e a literatura nos ensinam, cada um a seu modo, que a palavra tem poder. O poder de construir pontes ou erguer muros, de unir ou dividir, de ferir ou curar. Mas quando a palavra se une à justiça, ela se torna libertadora. É essa a essência das letras jurídicas: o encontro da técnica com a sensibilidade, da norma com o humano, da lei com a vida.
Se o Código de Hamurabi marcou o início da civilização pela força da lei, e se Shakespeare nos recorda até onde uma norma jurídica pode ir, cabe a nós, juristas do nosso tempo, continuar escrevendo as páginas do Direito com responsabilidade e humanidade, com o ser humano no epicentro das preocupações.
As palavras não podem servir apenas para registrar as normas, mas também para testemunhar a nossa busca constante por um mundo mais justo.
As letras jurídicas não devem existir apenas para repetir a lei, mas para repensá-la criticamente, sempre recordando o seu verdadeiro propósito, que não é um fim em si mesmo. O Direito só cumpre sua razão de ser quando protege o ser humano e todas as suas relações.
Assumir essa cadeira é, portanto, um ato de fé no poder transformador das ideias, das palavras e da Justiça.
Trago comigo o legado dos que me antecederam e a esperança de que, juntos, possamos seguir construindo um Direito que sirva, antes de tudo, à proteção e desenvolvimento da dignidade humana.
Agradeço, mais uma vez, à Academia Paulista de Letras Jurídicas por esta honra.
Agradeço à minha mulher Débora, a todos da minha família, aos meus professores, aos colegas deste Tribunal, magistrados e servidores, aos advogados, e a todos que, de alguma forma, caminharam comigo até este momento.
Encerro reafirmando o meu compromisso com esta Academia, instituição que tem a nobre missão de promover o aperfeiçoamento e difusão das Letras Jurídicas. A Academia é, ao mesmo tempo, guardiã da tradição e laboratório de novas ideias.
É nela que se encontram a experiência e a inovação, a técnica e a sensibilidade, o passado e o futuro do pensamento jurídico.
As letras jurídicas de um povo, de um país, se escrevem a partir dos fatos, das tradições, dos costumes, do consenso, das divergências, dos princípios… e também da lei de Moisés, da poesia de Neruda, da pintura de Di Cavalcanti, do desejo de Freud, do Código de Hamurabi, da dramaturgia de Shakespeare, da Providência divina de Santo Agostinho, da dialética de Hegel, da geografia de Ratzel, do capital de Marx, mas, fundamentalmente, do amor de Jesus — ainda que Einstein diga que tudo é relativo.
Assumo esta cadeira com humildade e entusiasmo, ciente de que cada acadêmico contribui, à sua maneira, para manter viva essa herança intelectual que distingue a APLJ.
Desejo que eu possa honrar os que me antecederam e retribuir, com o trabalho e a reflexão, a confiança que esta Casa deposita em mim. Muito obrigado